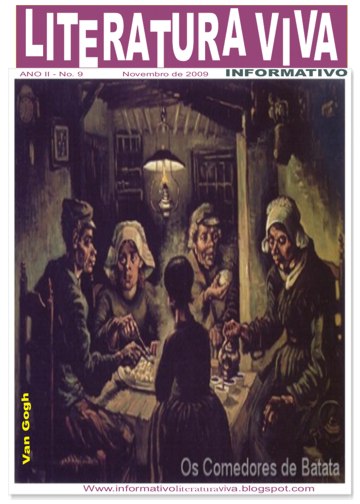por Steven Pinker[2]
Na Paris do século XVI, uma forma de entretenimento popular era a queima de gatos: num tablado, um gato era preso numa forquilha, içado, e vagarosamente baixado até uma fogueira. De acordo com o historiador Norman Davies, “os espectadores, incluindo reis e rainhas, gargavalhavam ruidosamente à medida que os animais, urrando de dor, eram chamuscados, queimados, e finalmente carbonizados”. Hoje, tal sadismo seria impensável na maior parte do mundo. Essa mudança nas sensibilidades é somente um exemplo da talvez mais importante e também mais subavaliada tendência da saga humana: a Violência tem diminuído durante longos trechos da história, e hoje provavelmente estamos vivendo o momento mais pacífico de todo o tempo de nossa espécie na Terra.
Na década de Darfur e Iraque, e pouco depois do século de Stalin, Hitler, e Mao, defender que a violência tem decrescido pode parecer qualquer coisa entre alucinatório e obsceno. Ainda assim, estudos recentes que procuram quantificar o fluxo e refluxo histórico da violência apontam exatamente para essa conclusão.
Algumas das evidências estão bem embaixo de nosso nariz durante todo o tempo. A historia convencional há muito mostrou que, de muitos modos, estamos ficando mais amáveis e gentis. A crueldade como entretenimento, o sacrifício humano para satisfazer a superstição, a escravidão para o trabalho, a conquista de terras alheias como a missão declarada dos governos, o genocídio como meio para aquisição de patrimônio, tortura e mutilação como punição rotineira, a pena de morte para mau comportamento e diferenças de opinião, assassinato como mecanismo para sucessão política, estupro como pilhagem de guerra, pogroms como descarga para a frustração, homicídio como a forma principal de resolução de conflitos, todas eram características não excepcionais de vida durante a maior parte da história humana. Mas hoje elas são raras ou inexistentes no Ocidente, e muito menos comum em outras partes do que já foram, escondidas quando ocorrem, e amplamente condenadas quando trazidas à luz.
Houve tempo em que esses fatos eram largamente apreciados. Eles eram a fonte de noções como progresso, civilização, e da ascensão do homem saindo da selvageria e da barbárie. Recentemente, contudo, essas idéias soam antiquadas, perigosas. Elas parecem demonizar pessoas em outros tempos e lugares, autorizar a conquista de colônias e outras aventuras no estrangeiro, e ocultar os crimes de nossas próprias sociedades. A doutrina do bom selvagem – a idéia de que humanos são pacíficos por natureza e corrompidos pelas instituições modernas – frequentemente surge nos escritos de intelectuais conhecidos do público como José Ortega y Gasset (“A guerra não é um instinto, mas uma invenção”), Stephen Jay Gould (“O homo sapiens não é mau ou uma espécie destrutiva”), e Ashley Montagu (“Estudos biológicos emprestam apoio à ética da irmandade universal”). Mas, agora que os cientistas sociais começaram a contar os corpos nos diferentes períodos históricos, descobriram que a teoria romântica tem seu contrário: longe de nos tornar mais violentos, algo na modernidade e em suas instituições culturais têm nos feito mais nobres.
Deve-se admitir que toda a tentativa de documentar mudanças na violência tem que ser embebida na incerteza. Em muito do mundo, o passado distante foi uma árvore caindo na floresta sem ninguém para ouvir, e mesmo para os eventos no registro histórico, as estatísticas são turvas até períodos recentes. Tendências de longo prazo podem ser distinguidas somente tateando ziguezagues e picos da horrível sangria. E a escolha por focar números relativos ao invés de números absolutos traz à tona o imponderável moral de qual é pior: 50% de uma população de 100 ou 1% de uma população de um bilhão ser morta.
Contudo, mesmo considerando esses cuidados, um quadro está se formando. A diminuição da violência é um fenômeno fractal, visível na escala milênios, séculos, décadas, e anos. Isso se aplica sobre várias ordens de magnitude da violência, do genocídio à guerra à revolta ao homicídio ao tratamento de crianças e animais. E parece ser uma tendência mundial, embora não homogênea. A posição de liderança tem sido ocupada pelas sociedades ocidentais, especialmente Inglaterra e Holanda, parecendo ter havido um ponto de queda ao despontar a Idade da Razão, no início do século XVII.
Numa perspectiva mais ampla, pode-se ver uma enorme diferença através dos milênios que nos separa de nossos ancestrais pré-estatais. Contrariando os antropólogos de esquerda que celebram o nobre selvagem, a contagem dos corpos – tal como a proporção de esqueletos pré-históricos com marcas de machado e pontas de lança cravadas ou a proporção de homens numa tribo contemporânea de forrageamento que morreu nas mãos de outros homens – sugere que sociedades pré-estatais eram bem mais violentas do que a nossa. É verdade que ataques de surpresa e batalhas mataram uma porcentagem muito pequena da quantidade que morre nas guerras modernas. Mas, na violência tribal, os choques são mais frequentes, a porcentagem de homens na população que combate é maior, e as taxas de morte por batalha são mais altas. De acordo com antropólogos como Lawrence Keeley, Stephen LeBlanc, Phillip Walker, e Bruce Knauft, esses fatores se combinam para produzir taxas de mortalidade na população em geral nos conflitos tribais que tornam pequenas aquelas dos tempos modernos. Se as guerras do século XX tivessem matado a mesma proporção da população que morreu numa sociedade tribal típica, teríamos 2 bilhões de mortos , e não 100 milhões.
A correção política na outra ponta do espectro ideológico também tem distorcido muitas concepções pessoais sobre a violência nas primeiras civilizações – nomeadamente, aquelas exibidas na Bíblia. Essa suposta fonte de valores morais contém muitas celebrações ao genocídio, nas quais os hebreus, incitados por Deus, trucidam qualquer residente que reste numa cidade invadida. A Bíblia também prescreve a morte por apedrejamento como penalidade para uma longa lista de infrações não violentas como idolatria, blasfêmia, homossexualidade, adultério, desrespeito aos pais, e coleta de lenha no Sabbath. Os hebreus, claro, não eram mais assassinos que outras tribos; pode-se encontrar frequentes demonstrações de orgulho pela tortura e genocídio na história antiga de hindus, cristãos, muçulmanos, e chineses.
Na escala séculos é difícil encontrar estudos quantitativos quanto às mortes ocorridas nos conflitos que englobem tempos medievais e modernos. Vários historiadores sugerem que tem havido um acréscimo no número de guerras registradas até hoje, através dos séculos, mas, como o cientista político James Payne observou, isso pode mostrar somente que “a Associated Press é uma fonte com maior cobertura de informação sobre batalhas ao redor do mundo do que foram os monges do século XVI”. Histórias sociais do Ocidente fornecem evidência de numerosas práticas bárbaras que se tornaram ultrapassadas nos últimos cinco séculos, tais como escravidão, amputação, cegamento, marcar a ferro, esfolamento, estripação, queimar no poste, quebrar na roda, e daí por diante. Entretanto, para outro tipo de violência – homicídio – os dados são abundantes e impressionantes. O criminologista Manuel Eisner tem colecionado centenas de registros sobre homicídio em várias localidades da Europa Ocidental que mantiveram registros em pontos entre 1200 e meados dos anos 1990. Em todos os paises que ele analisou, as taxas de assassinato baixaram acentuadamente – por exemplo, de 24 homicídios por 100.000 entre os homens ingleses no século XIV para 0,6 por 100.000 no início de 1960.
Na escala décadas, dados abrangentes novamente pintam um quadro escandalosamente feliz: a violência global tem caído estavelmente desde o meio do século XX. Conforme o Human Security Brief 2006, a quantidade de mortos em batalhas de guerras entre estados diminuiu de mais de 65.000 por ano nos anos 1950 para menos de 2000 por ano nesta década. Na Europa Ocidental e nas Américas, a segunda metade do século viu um declínio acentuado na quantidade de guerras, golpes militares, e revoltas étnicas mortais.
Após a guerra fria, todo canto do mundo viu uma descida íngreme nos conflitos entre estados, e mesmo aqueles que ocorrem são mais prováveis de terminarem em bases negociadas e não terem o fim amargo das guerras. Entretanto, de acordo com a cientista social Barbara Harff, entre 1989 e 2005 o número de campanhas para matança em massa de civis diminuiu 90%.
O declínio da matança e da crueldade coloca vários desafios para nossa capacidade de dar sentido ao mundo. Para começar, como tantas pessoas poderiam estar tão erradas a respeito de algo tão importante? Em parte, isso se deve a ilusão cognitiva: estimamos a probabilidade de um evento a partir da facilidade com que recordamos exemplos. Cenas de massacre são mais possíveis de serem retransmitidas a nossas salas de estar e gravadas em nossas memórias do que sequências de pessoas morrendo por conta da velhice. Em parte, é uma cultura intelectual que é relutante em admitir que poderia haver qualquer coisa boa acerca das instituições da civilização e da sociedade Ocidental. Em parte, é a estrutura de incentivo para os mercados do ativismo e de opinião: ninguém jamais atraiu seguidores e doações anunciando que as coisas continuam melhorando. E parte da explicação repousa no fenômeno em si. O declínio do comportamento violento teve um paralelo no declínio das atitudes que toleram ou glorificam a violência, e frequentemente as atitudes estão na liderança. Tão deploráveis quanto sejam, os abusos na prisão iraquiana de Abu Ghraib e as injeções letais de alguns poucos assassinos no Texas são suavizadas pelos padrões de atrocidades da história humana. Mas, de uma posição vantajosa para nossos dias, nós os vemos como sinais de quão baixo nosso comportamento pode descer, não quão alto nossos padrões se elevaram.
Outro grande desafio colocado pelo declínio da violência é como explicá-lo. Uma força que empurra na mesma direção ao longo de muitas épocas, continentes, e escalas de organização social zomba de nossas ferramentas padrão de explicação causal. Os suspeitos usuais – armas, drogas, imprensa, cultura americana - não chegam nem perto da tarefa. Também não poderia ser explicado pela evolução no sentido biológico: mesmo se o pacífico pudesse herdar a terra, a seleção natural não poderia favorecer os genes da mansidão com a rapidez necessária. De todo modo, a natureza humana não mudou tanto a ponto de perder seu gosto pela violência. Psicólogos sociais encontraram que ao menos 80% das pessoas já fantasiaram matar alguém de que não gostem. E os humanos modernos ainda sentem prazer vendo violência, se julgamos a popularidade de mistérios sobre assassinatos, dramas shakespeareanos, filmes com Mel Gibson, vídeo games, e hockey.
O que tem mudado, claro, é a vontade de as pessoas atuarem essas fantasias. O sociólogo Norbert Elias sugere que a modernidade européia acelerou um “processo civilizatório” marcado pelo aumento no autocontrole, planejamento de longo prazo, e a sensibilidade pelos pensamentos e sentimentos de outrem. Essas são exatamente as funções que os neurocientistas cognitivos atuais atribuem ao córtex pré-frontal. Mas isso somente provoca a pergunta: por que os humanos têm aumentado o exercício daquela parte de seus cérebros? Ninguém sabe por que nosso comportamento tem vindo sob o controle dos anjos bons de nossa natureza, mas há quatro idéias plausíveis.
A primeira é que Hobbes estava certo. A vida num estado natural é sórdida, brutal, e curta, não por conta de nossa sede primitiva por sangue, mas por conta da lógica inevitável da anarquia. Quaisquer seres com um mínimo de interesse pessoal podem ser tentados a invadir seus vizinhos e roubar seus recursos. O medo resultante de ataque irá instigar os vizinhos a atacarem primeiro em autodefesa preventiva, o que por sua vez irá instigar o primeiro grupo a atacá-los preventivamente, e daí por diante. Esse perigo pode ser neutralizado por uma política de prevenção de hostilidades – “Não ataque primeiro! Retalie se atacado!” – mas, para assegurar sua credibilidade, as facções devem vingar todos os insultos e desforrar as ofensas, levando a ciclos de vingança sangrenta. Essas tragédias podem ser impedidas por um estado com o monopólio sobre a violência, porque ele pode infringir penalidades imparciais que eliminam os incentivos para a agressão, desse modo neutralizando ansiedades acerca de ataque preventivo e afastando a necessidade de manter uma propensão à flor da pele para a retaliação. De fato, Eisner e Elias atribuem o declínio do homicídio europeu à transição das sociedades dos nobres guerreiros para os governos centralizados do início da modernidade. E, hoje, a violência continua a proliferar em zonas de anarquia, como regiões de fronteiras, estados falidos, impérios em colapso, e territórios disputados por máfias, gangues e outros grupos que negociam o ilícito.
Payne sugere outra possibilidade: a variável crítica no favorecimento da violência é uma percepção geral de que a vida é ordinária. Quando a dor e a morte precoce são aspectos cotidianos da própria pessoa, essa pessoa sente menos remorso de infringi-las a outras pessoas. Como a tecnologia e a eficiência econômica aumentam e melhoram nossas vidas, em geral damos mais valor à vida.
Uma terceira teoria, defendida por Robert Wright, invoca a lógica dos jogos de soma não zero: cenários nos quais dois agentes podem se dar bem se cooperarem, intercambiando bens, dividindo tarefas, ou compartilhando os dividendos da paz que vem com a deposição das armas. À medida em que as pessoas adquirem o conhecimento de que elas podem compartilhar e desenvolver tecnologias que lhes permitem distribuir seus bens e idéias por territórios maiores e a um custo menor, o incentivo para cooperar aumenta agudamente, porque as outras pessoas tornam-se mais valiosas vivas do que mortas.
Assim, há um cenário esboçado pelo filósofo Peter Singer. A evolução, ele sugere, transmitiu às pessoas um pequeno cerne de empatia, a qual, por ausência de mais contatos, elas aplicam somente a um círculo estreito de amigos e relações. Com os milênios, o circulo moral das pessoas se expandiu para incluir sociedades cada vez maiores: o clã, a tribo, a nação, ambos os sexos, outras raças, e até animais. O círculo pode ter sido alargado por redes de reciprocidade em expansão, a la Wright , mas também poderia ter sido inflado pela lógica inexorável da regra de ouro: quanto mais alguém conhece e pensa sobre as coisas das vidas de outrem, mais difícil fica privilegiar seu próprio interesse sobre o do outro. A escalada da empatia também pode ser fortalecida pelo cosmopolitanismo, no qual o jornalismo, as biografias, e a ficção realista fazem as vidas interiores de outras pessoas, e a natureza contingente da própria pessoa, mais palpáveis.
Quaisquer que sejam as causas, o declínio da violência tem implicações profundas. Não significa uma licença para a complacência: aproveitamos a paz que temos hoje porque pessoas nas gerações anteriores foram aterrorizadas pela violência em suas épocas e trabalharam para findá-la, do mesmo modo que devemos trabalhar para por fim à violência aterrorizante de nossos tempos. Também não é necessariamente base para otimismo sobre nosso futuro imediato, já que nunca o mundo teve lideres nacionais que combinassem sensibilidades pré-modernas com armamentos modernos.
Mas o fenômeno, de fato, nos força a repensar nosso entendimento sobre a violência. A inumanidade do Homem contra o Homem há muito tem sido tratada como questão moral. Com o conhecimento de que algo tem conduzido a violência para níveis dramaticamente mais baixos, podemos tratá-la como uma questão de causa e efeito. Ao invés de perguntar, “por que existe a guerra?”, deveríamos perguntar, “por que existe a paz?”. Da possibilidade de estados cometerem genocídios ao modo como as pessoas tratam gatos, devemos estar fazendo alguma coisa certa. E seria bom saber, exatamente, o que.
Pesquisa e tradução: Marcos Brunini (marcosbrunini@yahoo.com.br)
Na Paris do século XVI, uma forma de entretenimento popular era a queima de gatos: num tablado, um gato era preso numa forquilha, içado, e vagarosamente baixado até uma fogueira. De acordo com o historiador Norman Davies, “os espectadores, incluindo reis e rainhas, gargavalhavam ruidosamente à medida que os animais, urrando de dor, eram chamuscados, queimados, e finalmente carbonizados”. Hoje, tal sadismo seria impensável na maior parte do mundo. Essa mudança nas sensibilidades é somente um exemplo da talvez mais importante e também mais subavaliada tendência da saga humana: a Violência tem diminuído durante longos trechos da história, e hoje provavelmente estamos vivendo o momento mais pacífico de todo o tempo de nossa espécie na Terra.
Na década de Darfur e Iraque, e pouco depois do século de Stalin, Hitler, e Mao, defender que a violência tem decrescido pode parecer qualquer coisa entre alucinatório e obsceno. Ainda assim, estudos recentes que procuram quantificar o fluxo e refluxo histórico da violência apontam exatamente para essa conclusão.
Algumas das evidências estão bem embaixo de nosso nariz durante todo o tempo. A historia convencional há muito mostrou que, de muitos modos, estamos ficando mais amáveis e gentis. A crueldade como entretenimento, o sacrifício humano para satisfazer a superstição, a escravidão para o trabalho, a conquista de terras alheias como a missão declarada dos governos, o genocídio como meio para aquisição de patrimônio, tortura e mutilação como punição rotineira, a pena de morte para mau comportamento e diferenças de opinião, assassinato como mecanismo para sucessão política, estupro como pilhagem de guerra, pogroms como descarga para a frustração, homicídio como a forma principal de resolução de conflitos, todas eram características não excepcionais de vida durante a maior parte da história humana. Mas hoje elas são raras ou inexistentes no Ocidente, e muito menos comum em outras partes do que já foram, escondidas quando ocorrem, e amplamente condenadas quando trazidas à luz.
Houve tempo em que esses fatos eram largamente apreciados. Eles eram a fonte de noções como progresso, civilização, e da ascensão do homem saindo da selvageria e da barbárie. Recentemente, contudo, essas idéias soam antiquadas, perigosas. Elas parecem demonizar pessoas em outros tempos e lugares, autorizar a conquista de colônias e outras aventuras no estrangeiro, e ocultar os crimes de nossas próprias sociedades. A doutrina do bom selvagem – a idéia de que humanos são pacíficos por natureza e corrompidos pelas instituições modernas – frequentemente surge nos escritos de intelectuais conhecidos do público como José Ortega y Gasset (“A guerra não é um instinto, mas uma invenção”), Stephen Jay Gould (“O homo sapiens não é mau ou uma espécie destrutiva”), e Ashley Montagu (“Estudos biológicos emprestam apoio à ética da irmandade universal”). Mas, agora que os cientistas sociais começaram a contar os corpos nos diferentes períodos históricos, descobriram que a teoria romântica tem seu contrário: longe de nos tornar mais violentos, algo na modernidade e em suas instituições culturais têm nos feito mais nobres.
Deve-se admitir que toda a tentativa de documentar mudanças na violência tem que ser embebida na incerteza. Em muito do mundo, o passado distante foi uma árvore caindo na floresta sem ninguém para ouvir, e mesmo para os eventos no registro histórico, as estatísticas são turvas até períodos recentes. Tendências de longo prazo podem ser distinguidas somente tateando ziguezagues e picos da horrível sangria. E a escolha por focar números relativos ao invés de números absolutos traz à tona o imponderável moral de qual é pior: 50% de uma população de 100 ou 1% de uma população de um bilhão ser morta.
Contudo, mesmo considerando esses cuidados, um quadro está se formando. A diminuição da violência é um fenômeno fractal, visível na escala milênios, séculos, décadas, e anos. Isso se aplica sobre várias ordens de magnitude da violência, do genocídio à guerra à revolta ao homicídio ao tratamento de crianças e animais. E parece ser uma tendência mundial, embora não homogênea. A posição de liderança tem sido ocupada pelas sociedades ocidentais, especialmente Inglaterra e Holanda, parecendo ter havido um ponto de queda ao despontar a Idade da Razão, no início do século XVII.
Numa perspectiva mais ampla, pode-se ver uma enorme diferença através dos milênios que nos separa de nossos ancestrais pré-estatais. Contrariando os antropólogos de esquerda que celebram o nobre selvagem, a contagem dos corpos – tal como a proporção de esqueletos pré-históricos com marcas de machado e pontas de lança cravadas ou a proporção de homens numa tribo contemporânea de forrageamento que morreu nas mãos de outros homens – sugere que sociedades pré-estatais eram bem mais violentas do que a nossa. É verdade que ataques de surpresa e batalhas mataram uma porcentagem muito pequena da quantidade que morre nas guerras modernas. Mas, na violência tribal, os choques são mais frequentes, a porcentagem de homens na população que combate é maior, e as taxas de morte por batalha são mais altas. De acordo com antropólogos como Lawrence Keeley, Stephen LeBlanc, Phillip Walker, e Bruce Knauft, esses fatores se combinam para produzir taxas de mortalidade na população em geral nos conflitos tribais que tornam pequenas aquelas dos tempos modernos. Se as guerras do século XX tivessem matado a mesma proporção da população que morreu numa sociedade tribal típica, teríamos 2 bilhões de mortos , e não 100 milhões.
A correção política na outra ponta do espectro ideológico também tem distorcido muitas concepções pessoais sobre a violência nas primeiras civilizações – nomeadamente, aquelas exibidas na Bíblia. Essa suposta fonte de valores morais contém muitas celebrações ao genocídio, nas quais os hebreus, incitados por Deus, trucidam qualquer residente que reste numa cidade invadida. A Bíblia também prescreve a morte por apedrejamento como penalidade para uma longa lista de infrações não violentas como idolatria, blasfêmia, homossexualidade, adultério, desrespeito aos pais, e coleta de lenha no Sabbath. Os hebreus, claro, não eram mais assassinos que outras tribos; pode-se encontrar frequentes demonstrações de orgulho pela tortura e genocídio na história antiga de hindus, cristãos, muçulmanos, e chineses.
Na escala séculos é difícil encontrar estudos quantitativos quanto às mortes ocorridas nos conflitos que englobem tempos medievais e modernos. Vários historiadores sugerem que tem havido um acréscimo no número de guerras registradas até hoje, através dos séculos, mas, como o cientista político James Payne observou, isso pode mostrar somente que “a Associated Press é uma fonte com maior cobertura de informação sobre batalhas ao redor do mundo do que foram os monges do século XVI”. Histórias sociais do Ocidente fornecem evidência de numerosas práticas bárbaras que se tornaram ultrapassadas nos últimos cinco séculos, tais como escravidão, amputação, cegamento, marcar a ferro, esfolamento, estripação, queimar no poste, quebrar na roda, e daí por diante. Entretanto, para outro tipo de violência – homicídio – os dados são abundantes e impressionantes. O criminologista Manuel Eisner tem colecionado centenas de registros sobre homicídio em várias localidades da Europa Ocidental que mantiveram registros em pontos entre 1200 e meados dos anos 1990. Em todos os paises que ele analisou, as taxas de assassinato baixaram acentuadamente – por exemplo, de 24 homicídios por 100.000 entre os homens ingleses no século XIV para 0,6 por 100.000 no início de 1960.
Na escala décadas, dados abrangentes novamente pintam um quadro escandalosamente feliz: a violência global tem caído estavelmente desde o meio do século XX. Conforme o Human Security Brief 2006, a quantidade de mortos em batalhas de guerras entre estados diminuiu de mais de 65.000 por ano nos anos 1950 para menos de 2000 por ano nesta década. Na Europa Ocidental e nas Américas, a segunda metade do século viu um declínio acentuado na quantidade de guerras, golpes militares, e revoltas étnicas mortais.
Após a guerra fria, todo canto do mundo viu uma descida íngreme nos conflitos entre estados, e mesmo aqueles que ocorrem são mais prováveis de terminarem em bases negociadas e não terem o fim amargo das guerras. Entretanto, de acordo com a cientista social Barbara Harff, entre 1989 e 2005 o número de campanhas para matança em massa de civis diminuiu 90%.
O declínio da matança e da crueldade coloca vários desafios para nossa capacidade de dar sentido ao mundo. Para começar, como tantas pessoas poderiam estar tão erradas a respeito de algo tão importante? Em parte, isso se deve a ilusão cognitiva: estimamos a probabilidade de um evento a partir da facilidade com que recordamos exemplos. Cenas de massacre são mais possíveis de serem retransmitidas a nossas salas de estar e gravadas em nossas memórias do que sequências de pessoas morrendo por conta da velhice. Em parte, é uma cultura intelectual que é relutante em admitir que poderia haver qualquer coisa boa acerca das instituições da civilização e da sociedade Ocidental. Em parte, é a estrutura de incentivo para os mercados do ativismo e de opinião: ninguém jamais atraiu seguidores e doações anunciando que as coisas continuam melhorando. E parte da explicação repousa no fenômeno em si. O declínio do comportamento violento teve um paralelo no declínio das atitudes que toleram ou glorificam a violência, e frequentemente as atitudes estão na liderança. Tão deploráveis quanto sejam, os abusos na prisão iraquiana de Abu Ghraib e as injeções letais de alguns poucos assassinos no Texas são suavizadas pelos padrões de atrocidades da história humana. Mas, de uma posição vantajosa para nossos dias, nós os vemos como sinais de quão baixo nosso comportamento pode descer, não quão alto nossos padrões se elevaram.
Outro grande desafio colocado pelo declínio da violência é como explicá-lo. Uma força que empurra na mesma direção ao longo de muitas épocas, continentes, e escalas de organização social zomba de nossas ferramentas padrão de explicação causal. Os suspeitos usuais – armas, drogas, imprensa, cultura americana - não chegam nem perto da tarefa. Também não poderia ser explicado pela evolução no sentido biológico: mesmo se o pacífico pudesse herdar a terra, a seleção natural não poderia favorecer os genes da mansidão com a rapidez necessária. De todo modo, a natureza humana não mudou tanto a ponto de perder seu gosto pela violência. Psicólogos sociais encontraram que ao menos 80% das pessoas já fantasiaram matar alguém de que não gostem. E os humanos modernos ainda sentem prazer vendo violência, se julgamos a popularidade de mistérios sobre assassinatos, dramas shakespeareanos, filmes com Mel Gibson, vídeo games, e hockey.
O que tem mudado, claro, é a vontade de as pessoas atuarem essas fantasias. O sociólogo Norbert Elias sugere que a modernidade européia acelerou um “processo civilizatório” marcado pelo aumento no autocontrole, planejamento de longo prazo, e a sensibilidade pelos pensamentos e sentimentos de outrem. Essas são exatamente as funções que os neurocientistas cognitivos atuais atribuem ao córtex pré-frontal. Mas isso somente provoca a pergunta: por que os humanos têm aumentado o exercício daquela parte de seus cérebros? Ninguém sabe por que nosso comportamento tem vindo sob o controle dos anjos bons de nossa natureza, mas há quatro idéias plausíveis.
A primeira é que Hobbes estava certo. A vida num estado natural é sórdida, brutal, e curta, não por conta de nossa sede primitiva por sangue, mas por conta da lógica inevitável da anarquia. Quaisquer seres com um mínimo de interesse pessoal podem ser tentados a invadir seus vizinhos e roubar seus recursos. O medo resultante de ataque irá instigar os vizinhos a atacarem primeiro em autodefesa preventiva, o que por sua vez irá instigar o primeiro grupo a atacá-los preventivamente, e daí por diante. Esse perigo pode ser neutralizado por uma política de prevenção de hostilidades – “Não ataque primeiro! Retalie se atacado!” – mas, para assegurar sua credibilidade, as facções devem vingar todos os insultos e desforrar as ofensas, levando a ciclos de vingança sangrenta. Essas tragédias podem ser impedidas por um estado com o monopólio sobre a violência, porque ele pode infringir penalidades imparciais que eliminam os incentivos para a agressão, desse modo neutralizando ansiedades acerca de ataque preventivo e afastando a necessidade de manter uma propensão à flor da pele para a retaliação. De fato, Eisner e Elias atribuem o declínio do homicídio europeu à transição das sociedades dos nobres guerreiros para os governos centralizados do início da modernidade. E, hoje, a violência continua a proliferar em zonas de anarquia, como regiões de fronteiras, estados falidos, impérios em colapso, e territórios disputados por máfias, gangues e outros grupos que negociam o ilícito.
Payne sugere outra possibilidade: a variável crítica no favorecimento da violência é uma percepção geral de que a vida é ordinária. Quando a dor e a morte precoce são aspectos cotidianos da própria pessoa, essa pessoa sente menos remorso de infringi-las a outras pessoas. Como a tecnologia e a eficiência econômica aumentam e melhoram nossas vidas, em geral damos mais valor à vida.
Uma terceira teoria, defendida por Robert Wright, invoca a lógica dos jogos de soma não zero: cenários nos quais dois agentes podem se dar bem se cooperarem, intercambiando bens, dividindo tarefas, ou compartilhando os dividendos da paz que vem com a deposição das armas. À medida em que as pessoas adquirem o conhecimento de que elas podem compartilhar e desenvolver tecnologias que lhes permitem distribuir seus bens e idéias por territórios maiores e a um custo menor, o incentivo para cooperar aumenta agudamente, porque as outras pessoas tornam-se mais valiosas vivas do que mortas.
Assim, há um cenário esboçado pelo filósofo Peter Singer. A evolução, ele sugere, transmitiu às pessoas um pequeno cerne de empatia, a qual, por ausência de mais contatos, elas aplicam somente a um círculo estreito de amigos e relações. Com os milênios, o circulo moral das pessoas se expandiu para incluir sociedades cada vez maiores: o clã, a tribo, a nação, ambos os sexos, outras raças, e até animais. O círculo pode ter sido alargado por redes de reciprocidade em expansão, a la Wright , mas também poderia ter sido inflado pela lógica inexorável da regra de ouro: quanto mais alguém conhece e pensa sobre as coisas das vidas de outrem, mais difícil fica privilegiar seu próprio interesse sobre o do outro. A escalada da empatia também pode ser fortalecida pelo cosmopolitanismo, no qual o jornalismo, as biografias, e a ficção realista fazem as vidas interiores de outras pessoas, e a natureza contingente da própria pessoa, mais palpáveis.
Quaisquer que sejam as causas, o declínio da violência tem implicações profundas. Não significa uma licença para a complacência: aproveitamos a paz que temos hoje porque pessoas nas gerações anteriores foram aterrorizadas pela violência em suas épocas e trabalharam para findá-la, do mesmo modo que devemos trabalhar para por fim à violência aterrorizante de nossos tempos. Também não é necessariamente base para otimismo sobre nosso futuro imediato, já que nunca o mundo teve lideres nacionais que combinassem sensibilidades pré-modernas com armamentos modernos.
Mas o fenômeno, de fato, nos força a repensar nosso entendimento sobre a violência. A inumanidade do Homem contra o Homem há muito tem sido tratada como questão moral. Com o conhecimento de que algo tem conduzido a violência para níveis dramaticamente mais baixos, podemos tratá-la como uma questão de causa e efeito. Ao invés de perguntar, “por que existe a guerra?”, deveríamos perguntar, “por que existe a paz?”. Da possibilidade de estados cometerem genocídios ao modo como as pessoas tratam gatos, devemos estar fazendo alguma coisa certa. E seria bom saber, exatamente, o que.
Pesquisa e tradução: Marcos Brunini (marcosbrunini@yahoo.com.br)
[1] Do original A History of Violence, disponível em http://pinker.wjh.harvard.edu/articles/media/2007_03_19_New%20Republic.pdf, acessado em 09/07/09.
[2] Psicólogo canadense, Steven Pinker leciona na Universidade de Harvard.